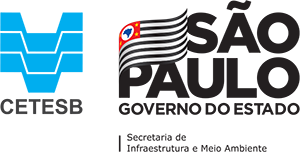Notícias
O risco tecnológico imposto por determinados empreendimentos a sua população externa é contemplado no processo de licenciamento ambiental em São Paulo por meio da aplicação da Norma CETESB P4.261 – Risco de Acidente de Origem Tecnológica – Método para decisão e termos de referência, 2011.
As diretrizes estabelecidas na Norma CETESB P4.261 para elaboração de um Estudo de Análise de Risco preveem uma etapa em que devem ser feitas as estimativas dos efeitos físicos das hipóteses acidentais identificadas na instalação em análise, momento no qual o analista de risco lança mão de uma diversidade de modelos matemáticos.
Entre estes modelos, estão os chamados modelos de dispersão atmosférica, que são usados para descrever o comportamento de um produto químico no ar após ser liberado acidentalmente em uma instalação e que permitem que se estime a área atingida pelo acidente em sua vizinhança, fundamental para se obter as expressões de risco da mesma.
Entretanto, os modelos de dispersão atmosférica comumente usados na seara da análise de risco apresentam fragilidades quando empregados em ambientes complexos, como os ambientes urbanos, e que, de uma forma geral, configuram as situações mais críticas na esteira da aplicação da Norma CETESB P4.261.
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia para avaliação da dispersão atmosférica de liberações acidentais em ambientes urbanos usando ferramentas de fluidodinâmica computacional (CFD) com o software Ansys Fluent, avaliando diferentes possibilidades de se modelar a turbulência nestes escoamentos.
Instalações offshore gastam milhões anualmente tentando garantir a integridade de seus equipamentos. O desafio está em determinar onde aplicar os recursos sempre finitos e limitados do setor para fornecer o maior benefício. A inspeção baseada em risco (RBI) foi desenvolvida na indústria do petróleo para auxiliar na identificação do equipamento de maior risco (trabalhando com os respectivos modos de falha) e para projetar um programa de inspeção que identifique os modos de falha mais relevantes. Este estudo faz parte de um projeto que tem por objetivo desenvolver uma metodologia de monitoramento da integridade dos equipamentos, otimizando as políticas de inspeção, com base no risco associado à operação de Árvores de Natal em operações submarinas. Os resultados desta fase do projeto incluem o estudo de duas configurações típicas de Árvores de Natal e o desenvolvimento de suas FMECAs; cujos dados relativos aos modos de falha foram levantados a partir da base de dados OREDA (SINTEF 2015a; SINTEF 2015b), de informações disponíveis na literatura e de informações disponibilizadas por fornecedores de equipamentos. A partir da análise da FMECA elaborada, foi possível determinar uma classificação dos componentes das árvores de Natal com base em sua criticidade. Esses resultados contribuem para a realização de análises de risco mais eficazes na indústria offshore, uma vez que os dados sobre esses equipamentos são escassos na literatura, principalmente dados relacionados às suas configurações, probabilidades de falha, métodos de inspeção e probabilidades de detecção de falha.
O artigo a ser apresentado aborda a análise qualitativa de risco de um parque eólico formado por turbinas offshore flutuantes (muitas vezes mencionadas como FOWT, do inglês Floating Offshore Wind Turbine) que fornecerão energia para unidades de produção offshore.
Descreve-se inicialmente cada tipo de subsistema específico de uma FOWT, identificando e analisando seus riscos mais significativos. É feita uma análise das taxas de falhas para turbinas eólicas através da comparação de diferentes referências e determina-se um valor de taxa de falha para cada subsistema da turbina. O procedimento adotado permite definir a frequência de um determinado evento e fornece subsídios para uma análise de risco de uma única turbina.
Posteriormente é estudado o parque eólico completo, particularmente as distâncias seguras entre o parque e a unidade de produção. Inicia-se então uma análise preliminar de risco para todo o sistema do parque considerando a frequência e a severidade de potenciais eventos de perigo. A avaliação da frequência da ocorrência foi baseada na frequência das falhas associadas a cada evento de perigo identificado. A severidade com relação ao risco patrimonial foi baseada nos valores relativos de cada sistema afetado. As severidades com relação aos riscos pessoal e ambiental foram inicialmente avaliadas através da opinião de especialistas.
Note-se que análises de risco de plataformas offshore flutuantes são solicitadas em algumas sociedades classificadoras, como é o caso do Bureau Veritas na especificação NI-502 (BUREAU VERITAS, 2019) em seu Apêndice 5, parágrafo 1.2.
Por muitos anos grandes empresas do setor industrial avaliavam o desempenho em segurança focadas em aspectos ocupacionais, com indicadores baseados em taxas de lesões. Após a ocorrência de grandes acidentes industriais, observou-se que a maioria dos indicadores ocupacionais associados a lesões não demonstrava necessariamente uma melhoria na prevenção de acidentes industriais graves. Surgiu, portanto, a necessidade de monitorar o desempenho da segurança dos processos industriais com indicadores específicos. Historicamente esse monitoramento iniciou-se nas indústrias de óleo&gás e petroquímicas que subsidiaram a elaboração de referências internacionais como o Guia de Indicadores de Segurança de Processo do Centro de Segurança para Processos Químicos (CCPS) e a norma do Instituto Americano de Petróleo (API 754) Indicadores de Desempenho de Segurança de Processo para o Refino e Indústrias Petroquímicas. A indústria da mineração, em função da ausência de referências específicas, se utiliza destes materiais como guias direcionadores para implementação de indicadores de segurança de processos.
Em função das especificidades das operações da Vale com relação à mineração e processamento do minério quando comparadas às indústrias químicas e petroquímicas, identificou-se a necessidade de adequações ao conceito de eventos de segurança de processos e a adoção de uma metodologia para identificar os indicadores relacionados à segurança das operações.
Foram estabelecidas premissas que permitiram a incorporação do conceito ao sistema de gestão por meio de uma definição específica e critérios bem definidos para identificação das ocorrências assim como a realização de adaptações no sistema informatizado para registros dessas ocorrências.
A definição do conceito para identificar eventos de segurança de processos para a Vale não se limitou a “perda de contenção primária” de produtos perigosos, que é normalmente praticado nas indústrias. O conceito foi ampliado de forma a considerar também e liberação não planejada e não controlada de energia perigosa (química, mecânica, hidráulica, pneumática, elétrica e radiação) quer tenha ou não havido liberação de material, cujas consequências também podem resultar em danos à saúde, ao meio ambiente, ao patrimônio e a comunidade. Tais considerações tornam-se o gatilho para a identificação desses eventos e transcendem a aplicação do conceito para além das plantas de processos industriais nas organizações.
Para determinar se uma ocorrência atende à definição de um evento de segurança de processos, foram estabelecidas duas etapas principais: um fluxo com perguntas estratégicas que, por meio de palavras chaves, conduzem os profissionais a algumas reflexões que podem ou não resultar na identificação de uma ocorrência de segurança de processos operacionais e uma lista de critérios de severidade de modo a representar os diferentes níveis do evento, semelhante aos Tiers 1 e 2.
Com a identificação, registro e tratamento desses eventos de segurança de processos a Vale tem o objetivo de transformar a cultura organizacional da empresa agregando às práticas atuais outras ações que possam promover a prevenção de acidentes industriais graves, trazendo visibilidade para a liderança. Por meio de um trabalho direcionado para promover a integridade das suas instalações, a Vale se fortalece para atingir um outro patamar de segurança e de excelência das operações, tornando-se referência na mineração.
No contexto da exploração e produção de petróleo, a disponibilidade é um indicador importante tanto para os sistemas de produção quanto de segurança. No primeiro caso, a disponibilidade é sinônimo de continuidade da produção, melhorando índices como o número de barris de óleo produzidos por dia. No segundo caso, a disponibilidade implica no correto funcionamento dos sistemas de proteção, garantindo a integridade dos ativos e a ausência de danos ambientais, pessoais e patrimoniais.
A análise RAM (Reliability, Availability and Maintainability, termo em inglês para “Confiabilidade, Disponibilidade e Mantenabilidade”) visa estimar a disponibilidade de sistemas de engenharia a partir de atributos de confiabilidade e mantenabilidade no nível de seus componentes, tais como o tempo esperado até a falha e o tempo esperado de reparo. Em geral, este tipo de análise é realizada com o apoio de modelos estocásticos como, por exemplo, Cadeias de Markov e Redes de Petri. Não obstante, os modelos convencionais podem ser aprimorados por meio da aplicação do método de Monte Carlo, o qual permite relaxar algumas suposições restritivas e simular condições mais realistas.
No entanto, algumas dificuldades surgem. Em particular, pode-se destacar duas delas, as quais motivam este artigo:
i. a representação do arranjo funcional do sistema, ou seja, a maneira como componentes interagem entre si para desempenhar a função final desejada;
ii. a consideração de fatores alheios ao sistema físico, mas que afetam a sua disponibilidade, tais como a quantidade de equipes de reparo e a quantidade de peças sobressalentes disponíveis.
Para lidar com a primeira dificuldade e poder tratar sistemas físicos complexos – que vão além das lógicas do tipo “série” e “paralelo” – é possível utilizar as árvores de falha, que permitem identificar os cut sets mínimos mesmo em sistemas com arranjo funcional de elevada complexidade. Em função disso, há abordagens na literatura que tiram proveito das árvores de falhas como técnica de modelagem de suporte para a análise RAM.
Entretanto, os algoritmos atuais não levam em consideração os fatores alheios ao sistema físico na simulação, ou o fazem de maneira limitada. Em particular, no contexto de exploração e produção de petróleo offshore, tais considerações são de suma importância dada a restrição de pessoal e itens a bordo das plataformas de produção. De modo a avançar no conhecimento em relação a esta limitação destacada, o artigo tem como objetivo o aprimoramento de algoritmos já existentes para realizar análise RAM em sistemas de produção de petróleo, suportada por árvore de falhas e simulação de Monte Carlo. Isto inclui a consideração do impacto de elementos como
a. número de equipes de reparo disponíveis;
b. quantidade disponível de sobressalentes de componentes e suas partes;
c. relação de prioridade entre componentes para reparo.
Os algoritmos estão sendo implementados computacionalmente em linguagem de programação C++, seguindo o paradigma de orientação a objetos. Ao final do artigo, os algoritmos desenvolvidos serão aplicados a um estudo de caso para fins de verificação e validação.
Industrial accidents, such as toxic spills, have caused catastrophic environmental damage to animals and plants. The high number of vessels, including oil tankers that circulate the globe and extreme events such as storms and tropical cyclones due to global warming, increase the risk of potential oil spills affecting oceanic islands. The frequency estimate is a fundamental step in any risk assessment. However, some types of accidents correspond to extreme events, i.e., low frequency-high consequences events. In this context, classical statistical approaches are ineffective since available data are generally sparse and contain censored recordings. Thus, we propose a Bayesian population variability method to estimate the distributions of the accident rates. We can integrate sparse data from accident databases with judgements of experts such as pilots, captains and nautical officers. Moreover, this assessment is used in the real case of oil tankers that navigate nearby the Fernando de Noronha Archipelago (FNA). The frequency results will be incorporated into a further Quantitative Ecological Risk Assessment (QERA).
Integridade de Poço pode ser definida como a capacidade do poço em conter fluidos, evitando vazamentos indesejados para o meio ambiente. Para um adequado gerenciamento da integridade de poços na etapa de produção é necessário definir técnicas e periodicidade de testes, inspeções e monitoramento. Entretanto, durante o processo de gerenciamento da integridade de poços planos de teste, inspeção e monitoramento podem não ser cumpridos adequadamente e falhas ou degradações em barreiras de segurança do poço podem ser identificadas, fazendo com que o risco previamente assumido pelo projeto do poço se eleve. Dessa forma, pode-se fazer uso de análises de confiabilidade e risco para auxiliar nas tomadas de decisão quanto à continuidade operacional. Mas quanto de redução na confiabilidade do poço ou de elevação de risco é aceitável? Por quanto tempo? Qual é a eficácia de cada possível ação para aumentar a confiabilidade do sistema? Este trabalho ataca estes questionamentos fazendo uso de técnicas de análise de confiabilidade e desenvolve uma metodologia para gerenciamento de integridade de poços baseada na comparação entre a confiabilidade prevista na fase do projeto do poço e a confiabilidade dos elementos de barreira do poço durante a etapa de produção levando em consideração evidências de sucesso e falha obtidas com monitoramento e testes realizados. Como caso de referência, é utilizado um poço de petróleo submarino típico do pré-sal brasileiro. A relação funcional entre os elementos de barreira do poço foi modelada e os dados de confiabilidade utilizados são provenientes de bancos de dados internacionais reconhecidos. Na metodologia proposta é possível usar taxas de falha constantes ou variáveis ao longo do tempo e a confiabilidade relativa do sistema de poço é calculada a cada momento, considerando o conhecimento adquirido ao testar e monitorar os componentes durante a etapa de produção. Essa metodologia auxilia na determinação do nível de risco atual do poço em produção e na avaliação da necessidade ou não de uma intervenção com sonda, propondo um prazo máximo para sua realização baseado em confiabilidade. Os resultados são fundamentais como embasamento técnico para suporte ao gerenciamento do risco e tomada de decisão quanto à integridade de poços em produção.
Os eventos de segurança estão presentes na história da indústria de óleo e gás. Por mais que os cuidados na prevenção destes tenham aumentado, grandes acidentes continuam ocorrendo. Algumas nações já adotam metodologias robustas para gestão de emergências, mas no Brasil ainda não existe uma referência. Baseado numa pesquisa bibliográfica sobre o tema no Brasil, EUA e Europa, esse trabalho visa discutir a necessidade de adoção de um modelo de gestão de emergências consistente e padronizado no país.
Os EUA, desde a década de 1970, vêm se estruturando para responder a grandes emergências e, em 2004, tornou obrigatório o uso do Incident Command System – ICS, metodologia de gestão de emergências adotada pelo National Incident Management System – NIMS (FEMA, 2017). Já na Europa, existe, desde 2001, o Mecanismo Comunitário de Proteção Civil, acordo de cooperação entre países da União Europeia para catástrofes de grandes dimensões nas quais o país confrontado não consegue responder sozinho (ANPC, 2009).
O Brasil ainda está caminhando no sentido de regulamentar e instituir um sistema de gestão de emergências consistente. Tratando especificamente do setor de óleo e gás, há dois mecanismos de resposta instituídos legalmente: “Plano de Emergência” e “Plano Nacional de Contingência (PNC)”. O primeiro é um documento que define os procedimentos de resposta a acidentes, exigido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgãos ambientais e corpo de bombeiros. O PNC fixa responsabilidades, estabelece estrutura organizacional e define diretrizes, procedimentos e ações, com o objetivo de permitir atuação coordenada de órgãos públicos e entidades privadas na resposta a acidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob jurisdição nacional (BRASIL, 2013).
Além dos dois mecanismos exigidos pela legislação, muitas instalações estabelecem Planos de Auxílio Mútuo (PAM), quando localizadas em áreas de grande concentração industrial, visando à atuação cooperativa entre as empresas e órgãos públicos em situações de emergências. Outro projeto localizado que vem surgindo em algumas regiões do país é o processo APELL (Awereness and Preparedness for Emergencies at Local Level), iniciativa do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) que busca alertar e preparar as comunidades que vivem próximas às áreas industriais.
Percebe-se que na legislação vigente, só há uma tipologia de acidente que enseja o acionamento do PNC, o derramamento de óleo em águas. Seria importante que o PNC fosse acionado em qualquer emergência que resultasse em impactos graves a pessoas, meio ambiente e/ou patrimônio. Além disso, para que a ação de resposta funcione com a participação dos diversos atores envolvidos no plano, seria necessário um sistema de gestão de emergência padronizado de uso obrigatório por todos os envolvidos, de forma similar ao ICS nos EUA.
REFERÊNCIAS
ANPC – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL. Organizações, Sistemas e Instrumentos Internacionais de Proteção Civil. Cadernos Técnicos PROCIV 10. Carnaxide, Portugal, 2009.
BRASIL. Decreto nº 8.127, de 22 de outubro de 2013. Brasília, DF. 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8127.htm>.
FEMA – FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY. National Incident Management System. Washington, EUA, 2017. Disponível em: <https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_nims_doctrine-2017.pdf>.
As turbinas eólicas permitem gerar energia limpa em qualquer localização a partir de correntes de vento. A energia limpa gerada pode ser aproveitada por plataformas de exploração e produção de óleo e gás para reduzir a quantidade de Gases de Efeito Estufa associada à queima de gás para gerar a energia elétrica necessária na plataforma. As regulações ambientais cada ano são mais rígidas e as plataformas offshore vão precisar usar energias limpas para garantir a operação sem superar os limites de emissões das regulações. O funcionamento da turbina está limitado pelas eventuais falhas que ocorram nos componentes e subsistemas da turbina. Estudos de confiabilidade e disponibilidade permitem uma toma de decisão baseada em dados históricos de falha e reparo. Frente à falta de dados de operação, neste estudo são usados dados disponíveis de falha e reparo em uma simulação de Monte Carlo para avaliar a disponibilidade da turbina eólica ao longo do tempo. Com o conhecimento do comportamento das falhas e de reparo dos diferentes equipamentos e subsistemas pode-se tomar decisões visando melhorar a disponibilidade do sistema. Esta análise é um ponto de partida para considerar a implementação de turbinas eólicas offshore como suporte às unidades de produção offshore.