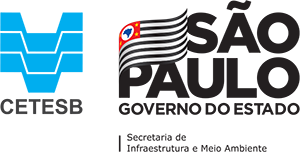Notícias
A Corrosão tem se apresentado como principal preocupação da indústria petrolífera quanto à integridade de suas tubulações de equipamentos submarinos, os quais são utilizados nos procedimentos de produção e transporte de petróleo e gás natural. Dentre os mecanismos de falha possíveis nestas tubulações, majoritariamente fabricadas em aços carbono de baixa liga, a Corrosão Interna e Uniforme destaca-se como a de maior razão incidência-impacto. Este processo culmina em perda de espessura generalizada ao longo das tubulações, a qual é causada pelo ambiente corrosivo criado pela presença de agentes corrosivos CO2 e/ou H2S e água na composição dos fluídos multifásicos transportados pelas tubulações. Diferentes modelos comerciais vêm sendo desenvolvidos para realizar a Predição da Taxa de Corrosão nestas tubulações através dos principais parâmetros físico-químicos do sistema. Estes modelos variam entre formulações empíricas e mecanísticas, entre as opções de parâmetros de entrada e os respectivos limites operacionais e entre os graus de conservadorismo empregados na modelagem. Este trabalho sumariza informações acerca da Avaliação da Corrosão por meio da aplicação destes modelos. São endereçados informações e trabalhos que envolvem o tema da Corrosão Interna e Uniforme e das classificações dos modelos preditivos, e sumarizados os parâmetros de entrada, unidades empregadas e limites operacionais dos principais modelos presentes na indústria (NORSOK, OLI e Predict), os quais se dividem entre as atividades de Modelagem da Tensão de Cisalhamento na Parede da Tubulação e do pH e de Predição da Taxa de Corrosão. Os resultados da aplicação dos modelos em casos operacionais da literatura são discutidos em busca de perspectivas acerca das incertezas dos modelos. Nos três casos práticos trabalhados, as falhas de operação foram avaliadas de forma retroativa pelos modelos, permitindo o discernimento quanto às limitações de aplicação destes. Os resultados de uma Análise de Sensibilidade complementar à esta aplicação dos modelos são apresentados, fornecendo uma primeira avaliação do impacto dos parâmetros de entrada na predição. Ao fim, encontram-se endereçados os trabalhos em desenvolvimento para utilização dos modelos comerciais junto à atividade de Cálculo da Vida Remanescente de uma Tubulação por meio da Confiabilidade Estrutural.
Palavras-Chave: Avaliação da Corrosão Interna e Uniforme; Modelos de Predição da Corrosão; Análise de Sensibilidade; Tubulações de Aço Carbono para Transporte de Petróleo e Gás Natural; Agentes Corrosivos CO2 e H2S.
Com o avanço das fronteiras de exploração e produção de novas reservas de petróleo em ambientes mais desafiadores, a garantia da integridade de poços de petróleo tem se tornado cada vez importante, de forma a evitar eventos catastróficos como a perda dos poços e o de vazamento de hidrocarbonetos para o meio ambiente. Este é o caso do cenário do pré-sal brasileiro, com lâminas d’ água superando 2.000 m, alta pressão e elevada temperatura, formações salinas plásticas, presença de CO2 e H2S, entre outros desafios. Devido a esta complexidade durante toda a vida produtiva do poço vários trabalhos têm sido realizados de forma a quantificar a integridade do poço nesta etapa do ciclo de vida.
Tradicionalmente, a abordagem utilizada, envolve modelagem por árvore de falhas contemplando os elementos da completação, os equipamentos submarinos e parte da estrutura do poço. Os estudos, contudo, se limitam a abordar os eventos como sendo independentes e usualmente terminam no revestimento de produção, não levando em consideração possíveis falhas na estrutura do poço. Estas apresentam uma maior complexidade de modelagem, tendo em vista que existem relações condicionais de dependência entre as falhas e dos carregamentos a que os elementos estão sujeitos; ao mesmo tempo em que existe uma sequência temporal para a evolução das mesmas.
Neste artigo buscou-se modelar as falhas na estrutura do poço utilizando um novo modelo proposto, WISDOM (Well Integrity Status in Dynamic Operation Management), que considera a dinâmica e interdependência das falhas, buscando-se comparar os resultados destas com as atualmente existentes. Foram calculadas as probabilidades de ocorrência de vazamento e o nível de integridade de segurança (SIL) do poço para diversas situações. Sendo assim, serão apresentadas as condições nas quais de fato as modelagens tradicionais são suficientemente robustas para a tomada de decisão, assim como, os cenários onde estas modelagens subestimam a frequência ou probabilidade de vazamentos por não considerar as falhas estruturais.
O modelo WISDOM também calcula as importâncias dos elementos e faz a propagação de incertezas. Os resultados do estudo indicam a necessidade de se avaliar os fenômenos de comunicação entre os anulares do poço, em especial as falhas na cimentação, e a possibilidade de ocorrência de colapso dos revestimentos. Será apresentado um caso base, considerando dados reais de falha dos elementos e possíveis cenários que podem ocorrer durante a produção de um poço, como falhas na cimentação, falhas na cabeça do poço, entre outros.
Com o desafio crescente de garantir a integridade dos ativos industriais e com uma visão voltada para o futuro a fim de comprometer-se com a segurança do processo, há necessidade de criar e implementar metodologias para conhecer e identificar os eventos indesejáveis durante o ciclo de vida do ativo.
Devido à complexidade dos equipamentos industriais, seja eles de mineração, petrolífera ou etc. torna-se indispensável o entendimento do seu funcionamento, sistemas e seus principais componentes como também inferir como esses grupos atribuídos ao equipamento podem vir a falhar, seja por seleção inadequada de componente, instalação crítica sem devidos procedimentos, degradação e avarias durante a operação e manutenção ou seu desativamento ao final de sua vida útil, sem atentar-se de todos os cuidados para proteger a segurança das pessoas em geral, e ao mesmo tempo o meio ambiente.
A avaliação do risco e falhas associadas ao equipamento possibilita a identificação das medidas para reduzi-las através de fases. A primeira fase é considerada as probabilidades de falhas através do levantamento prévio de eventos conhecidos e coletados, sejam eles incidentes ou acidentes desses equipamentos ou comum aos principais componentes. Na segunda fase as informações coletadas são unidas com a expertise e benchmarking de especialistas dos equipamentos, e em workshops com grupo técnico especializado que por sua vez possui o conhecimento necessário do equipamento e de seus componentes para uma análise e interpretação dos possíveis eventos.
O principal objetivo é utilizar a árvore de falhas que é uma representação gráfica das interações das causas básicas que podem resultar em um evento perigoso ou indesejável, com endereçamento qualitativo com uso da lógica dedutiva para diagnosticar a causa raiz de uma falha a partir de um evento específico. No desenvolvimento dos ramos e sub-ramos para as causas prováveis é atrelado uma análise de possibilidade de implementação de um controle ou quesitos a fim de prevenir e mitigar uma cadeia de eventos de falhas e com isso evitar possíveis catástrofes, sejam elas nas fases de projeto, construção, instalação, comissionamento, operação, manutenção e descomissionamento do ativo.
A determinação ou finalização da causa básica ou primária é definida a partir da observância do controle ou quesito atribuído com base na matriz de criticidade da empresa ou seja, na consideração da condicionante de uso de um ou mais controles/quesitos que possam prevenir ou mitigar os eventos.
De acordo com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o Brasil apresenta em média 77,8 milhões de descargas atmosféricas por ano. Devido as grandes energias envolvidas em possíveis eventos, as descargas atmosféricas se mostram como uma fonte de perigo capaz de gerar acidentes de grande proporção. A Norma ABNT NBR 5419-2 contempla a avaliação de risco e define os requisitos para determinação de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas em território nacional. Complexos industriais de processamento de borracha contém estruturas de armazenamento de insumos em silos metálicos verticais. Estes insumos são diferentes tipos de negro de fumo (carbon black), substâncias sólidas em forma de pó que garantem às instalações o rótulo de áreas com potencial risco de explosão/incêndio de poeira combustível. O Data Sheet 7-76 da FM Global expõe e discute os aspectos de prevenção e mitigação das explosões e incêndios de poeira combustível. Este trabalho avalia uma estrutura de uma instalação de enriquecimento de borrachas, para a qual se justificam relevantes análises de risco e de consequências devido à incidência de descargas atmosféricas como possíveis fontes de ignição para explosão de poeira combustível. As análises mostraram-se possíveis através do uso conjunto da Norma ABNT NBR 5419-2 e do Data Sheet 7-76 da FM Global. Neste contexto, foram consideradas para a análise de riscos as principais fontes de danos geradas por uma descarga atmosférica na estrutura e no silo metálico contendo negro de fumo, sendo as avaliações feitas acerca da severidade associada à perda de vida humana, incluindo na análise a possibilidade de ferimentos permanentes. Cálculos de risco global à estrutura foram realizados para cenários com e sem a presença de medidas de proteção (utilização de SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), sendo os mesmos comparados a fim de comprovar a importância do procedimento de gerenciamento de risco como ferramenta de proteção e de redução dos riscos aos indivíduos. Uma análise qualitativa de consequências mostrou-se suficiente para avaliar as barreiras de segurança projetadas para os silos metálicos de armazenamento e discorrer acerca das reais chances de explosão de poeira.
Palavras-Chave: Análise de Riscos, Análise de Consequências, Descargas Atmosféricas, Negro de Fumo (Carbon Black), Silos Metálicos, Explosão de Poeira Combustível.
Risco na-tech é aquele imposto por um empreendimento industrial a terceiro (população no seu entorno) decorrente da possibilidade de ocorrer evento [na-tech] envolvendo a perda de contenção de um reservatório motivada por inundação, escorregamento, terremoto ou raio, entre outras causas naturais.
A literatura científica mostra que o evento na-tech, ou na-tech daqui por diante, representa 3% a 5% dos eventos de perda de contenção.
A tradicional avaliação quantitativa de risco (AQR) considera a possibilidade de ocorrência de evento envolvendo a perda de contenção de um reservatório motivada por falhas em equipamentos, humana ou de gestão. Causas naturais são comumente desconsideradas por representarem parcela pequena dos eventos.
Esta pesquisa referente ao período de 1940 – 2015 para o litoral do estado de São Paulo – região propensa a ocorrência de na-tech devido à presença de unidades industriais, histórico de escorregamentos e inundações, além de elevada ocupação humana –, investigou se o risco imposto por empreendimento industrial a terceiro é significativamente majorado se hipóteses na-tech forem adicionadas à tradicional AQR.
Como método da pesquisa, capturou-se dos resultados apresentados em [1] as variáveis substância vazada, equipamento e causa imediata. Esses resultados derivam da leitura presencial de jornais regionais do litoral paulista e a leitura das páginas eletrônicas de jornais de abrangência estadual/nacional. Foi complementada pelos bancos de dados da Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e Organização Mundial da Saúde.
Os na-techs atingiram predominantemente corpos d’água próximos aos empreendimentos industriais, sendo que aqueles associados a inundações atingiram equipamentos abertos e instalados ao nível do solo.
Esses resultados mostram ausência de fatalidade humana e que os meios ar e água foram atingidos pelos vazamentos. Considerando os resultados e as métricas vigentes da tradicional AQR, o risco imposto ao ser humano por empreendimentos industriais localizados na região costeira do estado de São Paulo e que manipulam substâncias perigosas decorrente das hipóteses na-tech é negligenciável.
Pode-se aperfeiçoar essa conclusão a partir do aumento da base de dados, com registros de outras fontes, por exemplo, o empreendimento industrial envolvido no na-tech. Este pode contribuir com informação exata acerca dos equipamentos envolvidos, das quantidades das substâncias liberadas para o ambiente, das medidas adotadas antes e depois do na-tech, do dano à vida humana e a outros bens ambientais, dos impactos econômicos e à imagem da empresa e, por fim, com lições aprendidas.
Outra fonte são os registros do Órgão Ambiental local. São previstas em lei advertência ou multa decorrentes de emissão para o ambiente de substância perigosa. Estas são comumente acompanhadas de exigências requerendo a apresentação de resultados de investigação do ocorrido. A recuperação desses registros contribuirá para o aperfeiçoamento da base de dados.
[1] XAVIER, J. C. de M.; SOUSA JUNIOR, W. C. de “Na-techs no Litoral do Estado de São Paulo: Diagnóstico no Período 1940-2015”. Congresso ABRISCO 2017. ABRISCO (Associação Brasileira de Análise de Risco, Segurança de Processo e Confiabilidade), Rio de Janeiro, Brasil. (2017). Disponível: <https://modal.cetesb.sp.gov.br/portal/>. Acesso: 29 jul. 2021.
A indústria de Óleo e Gás (O&G) exige níveis de produção com uma alta disponibilidade em todo o processo produtivo. Para poder garantir esta disponibilidade, diversas políticas de Manutenção Preventiva (PM), como Manutenção Baseada em Condições (CBM), e análises como Confiabilidade, Disponibilidade e Mantenabilidade (RAM) têm sido utilizadas. No entanto, um ponto fraco desses métodos é a falta de dados, o que significa uma forte dependência de especialistas. Porém, em função do aumento da precisão do processo de aquisição de dados e da capacidade de armazenamento ocorrido nas últimas duas décadas, o interesse dos pesquisadores e engenheiros por estudar e implementar novos algoritmos para melhorar a CBM tem crescido notavelmente. Como se pode constatar na literatura disponível, um grande grupo de pesquisadores tem estudado e aplicado algoritmos de Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo no diagnóstico e prognóstico de falhas, focando principalmente em máquinas baseadas na rotação. Este artigo centra-se na implementação de alguns procedimentos para obter um diagnóstico de avarias em uma bomba de água, a qual faz parte do sistema de injeção de água instalado em uma unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarregamento (FPSO). Foram consideradas as diretrizes apresentadas pela norma ISO 13379, que está relacionada com o Monitoramento da Condição (MC) e Diagnóstico de Falhas. Com o objetivo de se detectar anomalias, a partir dos dados coletados durante a operação do equipamento, foram implementados e analisados os resultados obtidos por três diferentes métodos: Isolation Forest (iForest), One Class-Support Vector Machine (OCSVM) e Autocodificador.
Na literatura, vários métodos são propostos e aplicados como algoritmos poderosos para detectar anomalias, mas a maioria foram treinados e testados com dados experimentais de rolamentos e poucos com dados de diversos sensores. Para o trabalho atual, foram utilizados dados crus provenientes de diversos sensores utilizados para monitorar diferentes parâmetros operacionais de uma bomba de água (pressão, temperatura, distâncias e vibração), os quais foram coletados durante três anos de operação.
Na indústria de óleo e gás, a garantia de operação segura é o principal motivo da evolução do conceito de integridade de poços. Este conceito se refere à aplicação de soluções técnicas, operacionais e organizacionais para reduzir o risco de liberação descontrolada de fluidos de formação ao longo do ciclo de vida de um poço. Assim, a alta disponibilidade de um poço pode ser garantida por meio do estabelecimento de Conjuntos Solidários de Barreiras (CSB) robustos que são responsáveis por prevenir, controlar e mitigar riscos potenciais que podem surgir durante o ciclo de vida do poço. Um CSB é composto a partir de vários elementos que agem individual ou coletivamente para garantir a integridade do poço. Este artigo apresenta uma análise de criticidade para quatro elementos de barreira de poço: packoff, revestimento, coluna de produção e DHSV, do inglês Downhole Safety Valve. Além disso, o estudo inclui a análise da válvula de gás Lift, que embora não seja considerada elemento de barreira, é um elemento de grande importância na operação do poço. Os resultados são divididos em qualitativos e quantitativos. A avaliação qualitativa descreve a análise funcional de cada componente, os modos de falha potencial de acordo com a norma ISO 14224 (2016), os efeitos potenciais da falha em termos de integridade do poço, bem como ações de mitigação e contingência que os operadores podem tomar para implementar antes ou durante os acidentes, respectivamente. A avaliação quantitativa identifica os 10 principais modos de falhas de cada elemento em análise, a partir dos seus respectivos Números de Prioridade de Risco, e o índice de criticidade desses elementos. Finalmente, as conclusões do estudo podem ser usadas para o projeto centrado na confiabilidade de elementos de barreira de poço e planejamento de manutenção de poços de petróleo.
O projeto dos poços produtores é uma etapa fundamental para o desenvolvimento de campos de petróleo. Nesta atividade, os projetistas têm como objetivo selecionar as alternativas de projeto que tragam melhores resultados financeiros, mas que também apresentem níveis de segurança aceitáveis. Os custos para a construção de um poço de petróleo geralmente são um dos principais fatores que influenciam no processo de tomada de decisão. Estes custos estão geralmente associados ao tempo de construção do poço, o qual depende predominantemente dos valores de diárias das sondas de perfuração. Ao longo dos anos, a engenharia de poços realizou avanços significativos no desenvolvimento de novas tecnologias para a redução do tempo de construção, as quais diminuem expressivamente no seu custo.
Apesar do benefício aparente neste cenário, algumas questões importantes podem ser levantadas. Qual o impacto das economias feitas na etapa de construção ao longo da vida produtiva do poço? Há um aumento significativo de OPEX capaz de se sobrepor aos ganhos obtidos na etapa de construção? De que forma as decisões de projeto afetam a integridade do poço ao longo da sua vida produtiva e, consequentemente, a segurança?
Este trabalho tem como objetivo auxiliar na elucidação de tais questões por meio da aplicação de indicadores relacionados à integridade dos poços ao longo de sua vida produtiva. Estes indicadores permitem a classificação de alternativas de configurações de poços segundo diversos méritos relacionados à sua integridade, tais como confiabilidade dos elementos de barreira, custos de reparos devido a problemas de integridade e downtime do poço devido a reparos. Para o cálculo dos indicadores, serão aplicadas de maneira combinada metodologias consagradas da análise probabilística de risco, tais como a técnica de análise por árvores de falhas e simulação pelo método de Monte Carlo. Como estudo de caso, quatro alternativas de configurações de poços serão avaliadas e ranqueadas segundo os indicadores propostos.
A análise da segurança das operações de perfuração de poços de petróleo a partir da visão sistêmica é ainda um campo ainda pouco difundido, em função de seu caráter cético e desconhecido quando comparado às análises mais tradicionais. O fato, é que este tipo abordagem apresenta uma série de precedentes positivos, uma vez que traz para o avaliador, a possiblidade de trabalhar com problemas mais complexos, onde pode haver uma ineficiência da segurança. Este comprometimento, muitas vezes está relacionado a inexistência de estruturas de controles específicos, controles inadequados ou mesmo de feedback deficientes que, quando ocorrem, podem levar a ocorrência de acidentes. Uma avaliação conjunta destas estruturas permite ao analista identificar as deficiências de segurança do sistema e assim projetar e/ou modificar um projeto existente de modo que ele suporte o caráter dinâmico destes sistemas.
A visão sistêmica tem trazido resultados promissores para algumas aplicações, especialmente àquelas caracterizadas por uma maior presença de sistemas computacionais ou mesmo envolvendo aspectos de automação. Nestes tipos de aplicações, nem sempre é possível simular todos as possiblidades das ações exercidas pelos controles computacionais, o que faz com que o analista busque novas ferramentas e métodos de avaliação. Entre as áreas que mais aderiram a esta abordagem estão: a aviação civil, indústria aeroespacial, indústria automotiva além dos setores militares de inteligência que buscam avaliar a segurança de suas operações e projetos. Apesar de baixa aderência no setor petroquímico, existe uma tendência de crescimento tendo em vista o aumento da complexidade das operações e aumento da automação do setor.
Desta forma, com objetivo de contribuir com o setor este artigo discute o emprego da análise sistêmica para avaliação da segurança nas operações de perfuração de poços em ambiente offshore. A partir de uma linha de pensamento sistêmico, a análise mostra as vantagens ao avaliar a segurança destas operações com base em um estudo que avalia o sistema como um todo de maneira a identificar possíveis controles ineficazes e que podem existir durante esta etapa e que, por si, podem contribuir para ocorrência de acidentes. Como ferramenta de suporte e apoio, este estudo considerou a aplicação do System-Theoretic Process Analysis (STPA) que busca, entre outros, identificar cenários inseguros que podem levar a ocorrência de acidentes. Os resultados preliminares permitiram a identificação de 405 cenários de perdas relacionados a 39 tipos de ações inseguras que podem ocorrer durante a atuação do Blowout Preventer (BOP) e servem de apoio e estudo para o desenvolvimento, entre outros, de indicadores de risco e de lead.